Carla Santos é doula, ativista e participa do movimento Violência Obstétrica Portugal, que teve início numa live do Instagram. Afirma que os currículos de Medicina em Portugal estão desatualizados e que “enquanto houver uma vítima de violência em Portugal, tencionamos ser muito presentes e assertivas”.
A Carla é doula, palavra que na origem grega significa “mulher que serve”. Como descreve o papel de uma doula na vida de uma mulher grávida?
Costumo dizer que ser doula devia ser uma coisa que não devia ser necessário, porque vamos preencher um bocadinho algumas lacunas que existem na sociedade, como no cuidado à mulher que está um pouco abandonado. A partir do momento em que se descobre que está grávida pode haver algum interesse por parte dos amigos, familiares, mas de forma prática existe muito pouco apoio. Então, funcionamos como uma validação dos medos, ansiedades e perguntas que a mulher tem e que, normalmente, não consegue colocá-las todas numa consulta entre 15 a 20 minutos. O que fazemos é tentar tirar o ruído daquelas coisas todas que as pessoas ouvem, tentar trazer muita evidência científica.
“Em Portugal, não é reconhecido que a doula é uma peça fundamental no parto e que conta como acompanhante”, disse Mariana Torres, médica obstetra, em entrevista à Sapo em maio de 2021. Sente isso?
Absolutamente. O que vemos é que protocolos hospitalares se sobrepõem à lei e o que sentimos, eu e colegas, é que, quando percebem o que somos, enquanto doulas, existe logo uma estigmatização enorme. Ou há uma salinha para onde somos encaminhadas ou existe mesmo aquela tentativa de hostilização que tentamos ao máximo neutralizar, porque o nosso objetivo é trazer harmonia para o bloco e não agressividade.
“A mentalidade dos médicos é muito retrógrada”
A violência obstétrica está na ordem do dia. É uma designação recente para a violência contra as mulheres no contexto da assistência à gravidez, parto e pós-parto. É algo que se foi normalizando e só agora é que as mulheres têm consciência de que certas práticas são abusivas?
Isto realmente é um conceito novo [para a opinião pública], mas já se fala em violência obstétrica em Portugal desde 2004. Só que [a temática] não é muito falada. Temos um lóbi médico muito forte. O que sinto é que, considerando a História de Portugal, o que percebemos é que os homens conseguiam tirar cursos de Medicina. As mulheres conseguiam tirar outros cursos na área da saúde, seriam enfermeiras, tinham de abdicar da vida em família, tinham de pedir uma autorização ao marido para trabalhar e, mesmo assim, este trabalho no feminino não era aceite. Num mundo de homens, todo o tratamento à mulher em consultas de ginecologia e obstetrícia é masculinizado. É uma realidade que está muito pouco virada para acolher as mulheres. Acho que se foi normalizando, as mulheres masculinizaram-se para entrar no mundo da Medicina, para tentar competir com a parte masculina. Havia muito poucas médicas antigamente. Felizmente, vão havendo mais. Recentemente é que há médicas que vão tendo a coragem de falar destes temas, mas são muito poucas aqui em Portugal. Somos uns “bebés” nesta questão.
Há várias práticas utilizadas pelos especialistas de obstetrícia e ginecologia que ainda prevalecem em Portugal, como é o caso da episiotomia que, em muitos países, já se encontra em desuso. Acha que a formação destes especialistas devia sofrer alterações?
Profundamente. Acho que o currículo que está neste momento nas faculdades de Medicina e de saúde em geral, em algumas especialidades de fisioterapia, por exemplo, alguns currículos estão muito desatualizados. É engraçado perguntares essa parte da episiotomia, porque há países onde não é ensinada há mais de 20 anos. Devemos perguntar porque é que aqui, em Portugal, ainda se passa. Não faz sentido. Há alguns países em que já é contextualizado como mutilação genital feminina. Nós estamos muito atrás no tempo.
A deputada Cristina Rodrigues propôs, através de um projeto-lei que entregou na Assembleia da República, criminalizar a violência obstétrica. A Venezuela já criminaliza esta prática desde 2007. Pensa que está tudo encaminhado para que este termo venha a estar presente na lei ou ainda há um longo caminho pela frente?
Acho que não vai estar tão cedo. Começamos a ter esse debate em Portugal. Entrar na Assembleia da República já é muito positivo, mas vamos levar muitos anos. Vai ser preciso que jovens médicos se formem com novos currículos, com novas mentalidades, porque a mentalidade dos médicos é muito retrógrada. Se formos pôr isto em números, diria uns 15 anos.
“Sentimos que tínhamos mesmo de fazer alguma coisa”
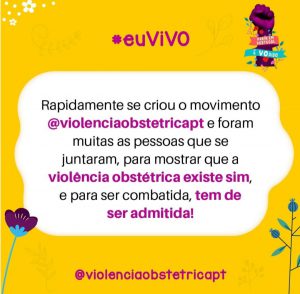
Criou recentemente um projeto chamado Violência Obstétrica Portugal com uma página no Instagram. Como surgiu a ideia?
Na realidade, não fui eu que criei. Foi feita uma live, entre amigas, em reação ao parecer da Ordem dos Médicos, e nessa live muita gente estava a dizer para irmos para a rua. Surgiu assim, com o objetivo de fazer uma manifestação que aconteceu no dia 6 de novembro. Teve uma adesão muito superior àquilo que estávamos a imaginar. O objetivo era entregar relatos de violência obstétrica diretamente na mão de representantes da Ordem dos Médicos, porque eles referiam que nunca tinham recebido nenhum relato de violência obstétrica e muita gente ficou ofendida porque tinham enviado a carta registada para a Ordem dos Médicos a informar das situações de violência, que foram completamente descartadas. Sentimos que tínhamos mesmo de fazer alguma coisa. E cá estamos em processo embrionário.
A manifestação foi realizada em frente à Ordem dos Médicos em Lisboa e em outras cidades do país, tendo sido uma iniciativa do movimento. As mulheres, vítimas destes atos violentos, sentem-se mais confortáveis havendo este tipo de iniciativas para partilhar as suas histórias perante mais pessoas?
Acho que não. Não se sentem nada confortáveis em partilhar estas histórias, mas sentem que é mesmo importante fazê-lo. Querem sempre o anonimato. A violência obstétrica é uma violência de género e tem paralelo com a violência sexual. Então, qualquer mulher vítima de violência tem muita dificuldade em se expor e, por isso, os relatos anónimos funcionaram muito bem. Tivemos cerca de 300 [relatos de testemunhas] que entregámos à Ordem dos Médicos, mas neste momento já vai a caminho de 600 porque não tem de haver identificação. As mulheres que foram à manifestação tiveram muita coragem, porque se expuseram, não estavam nada confortáveis, mas foi um sacrifício para passar a mensagem.
No dia 25 de novembro assinalou-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e, nesse mesmo dia, foi realizada uma manifestação pelo fim destes atos. Conta que a mensagem tenha sido passada ?
Tencionámos marcar a nossa presença e afirmar a violência obstétrica como violência de género. Fomos enquanto movimento “eu vivo”, movimento que criámos. O marco nesta manifestação foi falarmos com todas as palavras de violência obstétrica. Fazemos questão de sermos as “chatas”, as “histéricas”, como já houve alguns médicos a comentar. Vamos ser as histéricas a levar a violência obstétrica para todas as manifestações que haja daqui em diante.
Para fechar, vi no vosso Instagram que vão fazer uma associação.
Sentimos que em Portugal existe falta de ação, de uma coisa mais agressiva. Vamos focar todo o nosso esforço na violência obstétrica, em trazê-la para a sociedade civil. Já há alguns países com quem vamos trabalhar. Vamos trabalhar essencialmente em ações de sensibilização e em alguns gabinetes de apoio a vítimas de violência obstétrica. Enquanto houver uma vítima de violência em Portugal, tencionamos ser muito presentes e assertivas.






